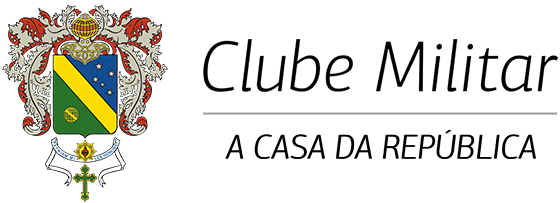Uma elite urbana de alta renda controla hoje o poder governamental, o poder corporativo e o discurso público na maior parte do planeta. Essa elite vive embriagada pelas piores partes do radicalismo da Revolução Francesa de 1789, e esqueceu, ou nunca conheceu, a Revolução Gloriosa de 1688 e a Revolução Americana de 1766.
Ao contrário do que pensa e prega essa elite, a noção de direitos humanos não começou na Revolução Francesa. As origens do conceito de direitos civis se perdem na história, e já estavam claramente presentes na tradição judaico-cristã.
A Magna Carta, apresentada pelos barões feudais ingleses ao rei João Sem Terra, em 1210, foi, na era moderna, provavelmente o primeiro documento a impor limites ao poder dos soberanos.
Os direitos dos cidadãos ingleses foram depois estabelecidos na Declaração de Direitos (Bill of Rights) escrita em 1689, durante a Revolução Gloriosa, que consolidou o poder do Parlamento. O documento, baseado nas ideias do filósofo John Locke, estabeleceu direitos civis básicos, confirmou os limites ao poder monárquico, garantiu eleições livres e liberdade de expressão.
Isso aconteceu em 1689 — exatos cem anos antes da Revolução Francesa. A Declaração de Direitos inglesa foi o modelo usado para redigir a Declaração de Direitos dos Estados Unidos de 1789 e a Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948. Mas o mundo parece que esqueceu.
A maioria de nós não aprendeu isso na escola. Nas aulas de história o foco é colocado, invariavelmente, na Revolução Francesa, apresentada como o ápice, ou a origem, do desenvolvimento filosófico, político e moral da humanidade. Na verdade, como disse a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, a revolução da França se pareceu mais com “uma sequência de expurgos, assassinatos em massa e guerra, tudo feito em nome de ideias abstratas formuladas por intelectuais vaidosos”.
Em vez de um evento único e homogêneo, a Revolução Francesa foi, na verdade, uma série de eventos nos quais grupos rivais — principalmente liberais e radicais — disputaram o controle do Estado francês, com diferentes vencedores em momentos diferentes, e onde os perdedores acabaram exilados ou até presos e mortos. A Revolução Francesa cortou a cabeça de milhares dos seus próprios criadores, e terminou na ditadura militar do general e imperador Napoleão Bonaparte — e, depois, vexame dos vexames, na restauração da monarquia.
Esses são os fatos. Apesar deles, ainda reina hegemônico o pensamento dos radicais revolucionários franceses, transfigurado pelo marxismo. Esse pensamento estabelece a primazia de uma suposta “igualdade” sobre todos os outros direitos, inclusive os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Igualdade suposta — e entre aspas —, porque é apenas uma construção teórica revolucionária, ausente, na prática, de todos os projetos socialistas e comunistas da história, sem uma única exceção.
Há quem diga que são duas as ideias essenciais da Revolução Francesa, inspiradoras dos modernos projetos políticos totalitários. A primeira é o conceito de igualdade absoluta entre indivíduos, a ser imposta a ferro e fogo (e a guilhotina, fuzilamento e campos de concentração, se necessário).
A segunda herança da Revolução Francesa seria o estabelecimento do papel do Estado como regulador racional do comportamento, do pensamento e do discurso público. A vida privada desaparece dentro do Estado. É preciso lembrar que os revolucionários franceses mudaram os nomes dos meses e dos dias da semana, e estabeleceram até o Culto do Ser Supremo, uma nova religião estatal que deveria substituir o Cristianismo. Maximillien Robespierre, o líder dos jacobinos, a facção mais radical da revolução, foi nomeado como Sumo Sacerdote do culto. Um mês depois ele era guilhotinado.
Uma série de marcos históricos conecta a Revolução Francesa ao mundo moderno. O primeiro pode ser a “Comuna” de Paris de 1871, quando, logo após a derrota da França na guerra contra a Prússia, um governo socialista radical tomou o controle da cidade e governou por três meses. Foi mais uma revolução para empilhar cadáveres e jogar cidadãos contra cidadãos. A Guarda Nacional enfrentou o Exército francês nas ruas da cidade, e a experiência serviu de inspiração para radicais de todo o mundo — incluindo um certo Vladimir Lenin.
Lenin lideraria a Revolução Russa de 1917. Em 1948 seria a vez de Mao liderar a Revolução Chinesa. Duas das maiores nações da Terra caíam sob regimes comunistas. Mas o comunismo, na prática, se revelou bem diferente do que pregara Marx. Em 1956, as denúncias do premiê soviético Nikita Kruschev sobre as atrocidades cometidas por Stalin desnudaram o caráter totalitário e criminoso do regime soviético, chocando militantes comunistas em todo o planeta.
Desse choque resultaria uma mudança de estratégia: abandona-se o projeto de revolução pelas armas em favor da ideia da revolução cultural, nascida do trabalho de Antônio Gramsci e promovida pela Escola de Frankfurt. Nas décadas seguintes, outros ativistas e ideólogos ampliam e disseminam a doutrina que ficaria conhecida como Gamscismo.
Saul Alinksy, nos Estados Unidos, ensinou aos militantes de esquerda suas Regras Para Radicais, explicando que “a questão nunca é a questão; a questão é sempre o poder”. Luigi Ferrajoli, na Itália, criou o garantismo penal, doutrina de desconstrução da justiça criminal através da dialética marxista que apresenta o criminoso como vítima da opressão capitalista que não merece — que não pode — ser punido. Paulo Freire, no Brasil, inverte a lógica do sistema de ensino com a sua pedagogia do oprimido, que abandona o aprendizado em nome da mobilização para a revolução.
Consolida-se uma progressiva hegemonia da esquerda em áreas-chave da sociedade e do Estado, como a literatura, o teatro, as artes plásticas, a música, o cinema, a TV, as escolas públicas e privadas, as universidades e a justiça, especialmente a justiça criminal. Quase todo o discurso público passa a ser produzido ou controlado por um ecossistema político-midiático-cultural-acadêmico de orientação marxista.
Como explicou Olavo de Carvalho (a citação não é literal): a dominação é tão completa que se dissolve no ar e passa a ser imperceptível. É o novo normal: é o marxismo estrutural, parafraseando o grande Gustavo Maultasch.
O marxismo aplicado às questões étnicas virou a “teoria crítica da raça“. O marxismo aplicado ao Direito virou o garantismo penal de Ferrajoli. O marxismo aplicado à sexualidade virou a ideologia de gênero. O marxismo aplicado à mídia virou o “combate à desinformação”. O marxismo aplicado à religião virou a teologia da libertação. O marxismo aplicado à educação virou a “pedagogia do oprimido” de Paulo Freire.
É assim que estávamos no início do século 21 — vivendo sob uma hegemonia marxista estrutural, total e já quase imperceptível —, quando três fenômenos quase simultâneos começaram a ocorrer. O primeiro foi tecnológico: a difusão da internet e o surgimento das redes sociais, catapultado pela popularização dos telefones celulares. De repente, todo mundo tinha opinião e todo mundo divulgava essa opinião para o restante do mundo. Uma tia do zap do interior de Goiás podia ter mais leitores em um post do que o alcance do editorial de um grande jornal.
O segundo fenômeno foi social: a retomada das ruas brasileiras pela população de bem, pelo cidadão comum, por famílias, idosos e crianças. Enquanto no restante da América Latina as ruas são vermelhas, dominadas por movimentos de extrema esquerda, a ruas no Brasil são verde-amarelas. Enquanto no Chile os manifestantes queimam igrejas e ônibus, no Brasil — desde 2014 — eles cantam o Hino Nacional, enrolam-se na bandeira e não jogam lixo no chão.
O terceiro fenômeno, entrelaçado com esses dois, foi o renascimento da direita no Brasil. Esse renascimento começou timidamente, com a reorganização do liberalismo nacional, impulsionada por entidades como o Instituto Mises Brasil, o Instituto Liberal, o Instituto Millenium e o Instituto de Formação de Líderes, e editoras como LVM, Avis Rara e Vide Editorial. Em seguida, foi a vez de o conservadorismo brasileiro ressurgir com a criação de inúmeros grupos, como o Movimento Brasil Conservador, o Instituto Brasileiro Conservador e mais recentemente o Instituto Conserva Rio, e editoras como Opção C, Editora E.D.A e BKCC, entre muitas outras.
Liberais e conservadores perderam a vergonha de assumir sua posição política. A direita brasileira saiu do armário. Esses três fenômenos, juntos, tiveram várias consequências. A primeira foi um inédito desafio ao poder vigente, que perdeu o monopólio do discurso e da comunicação de massa
É difícil imaginar essa operação acontecendo em um mundo onde o acesso à informação é controlado e o sentimento da sociedade não pode ser percebido instantaneamente
A Operação Lava Jato foi outra consequência. É difícil imaginar essa operação acontecendo em um mundo onde o acesso à informação é controlado e o sentimento da sociedade não pode ser percebido instantaneamente. Isso, inclusive, explica o que foi chamado por alguns críticos de “espetacularização” das investigações — na verdade o que se viu, talvez pela primeira vez na história brasileira, foi uma preocupação das autoridades em dar satisfações à sociedade sobre o seu trabalho. Nada mais natural e republicano do que tentar corresponder aos anseios dos cidadãos.
O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão e as condenações de Luiz Inácio foram consequências diretas da mobilização da sociedade, organizada nas redes e expressa em manifestações de rua cada vez maiores, coordenadas pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Outra consequência foi a popularização da política: hoje é mais provável que o brasileiro saiba a composição do STF do que a escalação da Seleção de futebol — um fenômeno inimaginável há poucos anos.
Por último, a consequência mais impressionante e de maior impacto: a decadência, em praça pública, da grande mídia, que entrou em uma espiral mortal de perda de credibilidade, audiência e receita. O lugar vazio foi preenchido pela ascensão de uma mídia “alternativa”, liderada tanto por jornalistas de renome quanto por cidadãos comuns, que descobriram em si o interesse e a capacidade para o trabalho jornalístico.
Esses cidadãos comuns — chamados pejorativamente de blogueiros — somos todos nós. Pela primeira vez na história podemos nos comunicar diretamente, sem a mediação obrigatória de veículos de imprensa ou de autoridades acadêmicas. Tudo isso gerou uma forte reação do sistema — ou establishment, mecanismo, estamento burocrático ou globalistas —, chame como quiser. Essa reação tomou diversas formas.
A censura foi ressuscitada, agora de banho tomado, fofa e perfumada, sob os nomes politicamente corretos de “checagem de fatos” e “combate à desinformação”. Qualquer publicação que não tenha sido feita por um veículo da grande mídia — por uma mídia de esquerda, para ser mais preciso — corre o risco de ser classificada como “fake news”.
Políticos de oposição mandaram os escrúpulos às favas e mergulharam na exploração da pandemia para ganhos político-eleitorais. Bom senso e responsabilidade cederam lugar a uma busca desesperada por “protagonismo vacinal”, e pelo primeiro lugar em uma competição nacional para descobrir quem cometeria a violação mais grave dos direitos civis da população: transportes públicos foram cancelados, portas de lojas foram soldadas, pessoas foram presas e agredidas apenas por andar na rua, frequentar praças ou, no Rio de Janeiro — isso eu mesmo testemunhei — pelo crime de dar um mergulho no mar.
Um inédito “consórcio de veículos de imprensa” foi formado para garantir o monopólio midiático em torno de uma mesma narrativa de terror sanitário. Ativistas políticos disfarçados de jornalistas — filhos do casamento ideológico de Paulo Freire com Stalin — iniciaram uma guerra pela disseminação de verdades “científicas” que dispensavam a ciência e demonizavam qualquer contraditório. “Sou pela vida” virou o grito de guerra dos jacobinos mascarados.
A mistura tóxica de ideologia, desespero eleitoral e corrupção intelectual levou ao “fique em casa” totalitário, repaginado agora, em 2022, como “fique em casa, se puder”. Os ideólogos que operam dentro do sistema de justiça criminal usaram a oportunidade para soltar mais de 60 mil criminosos que estavam presos em todo o país, para preservá-los da pandemia — e ainda conseguiram uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro — supostamente para não atrapalhar as medidas sanitárias. A suspensão vigora até hoje.
E o absurdo maior de todos, para o qual, um dia, haverá de ser instalado um tribunal especial de crimes contra a humanidade: o fechamento das escolas. Um ato insensato, anticientífico e ideológico que significou, para várias gerações de crianças e adolescentes, a condenação a uma vida de ignorância, pobreza, vício, crime e dependência do Estado.
Ao mesmo tempo em que tudo isso ocorria, o sistema colocava em ação outra estratégia: o ativismo judicial. Não é necessário detalhar a trajetória recente do ativismo judicial no Brasil. Isso já foi explicado em livros espetaculares, como O Inquérito do Fim do Mundo, Sereis Como Deuses: o STF e a Subversão da Justiça, Suprema Desordem: Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil e Guerra à Polícia: Reflexões Sobre a ADPF 635, todos da excelente Editora E.D.A.
Como alertou o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux em seu discurso de posse:
“…alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam debate em outras arenas.
Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no Parlamento”.
Os tribunais passaram a receber demandas que não envolvem interpretação jurídica, mas apenas decisões políticas. Decisões políticas são o domínio de políticos; o domínio dos tribunais é a aplicação das leis em nome da justiça.
O ativismo judicial é uma violação da autonomia e da independência dos Poderes republicanos. Ele é parte da reação de um sistema acostumado durante muito tempo ao poder quase absoluto. Esse sistema se recusa a aceitar uma forma de expressão e organização política que dispense a mediação da diminuta elite urbana.
Uma elite que dá mais valor às opiniões de alguns servidores do Judiciário do que aos votos de 58 milhões de pessoas e que se embriaga de radicalismo chique, esquecendo-se de um detalhe importante: depois de toda a embriaguez, vem a ressaca.